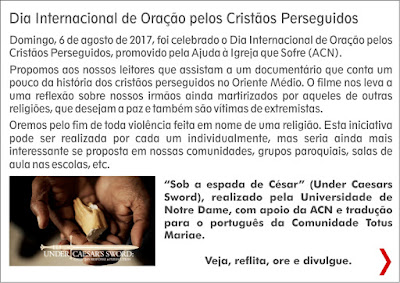Dois fatos principais provocaram a busca por uma nova ciência: os horrores nazistas quanto à exterminação e à experimentação em seres humanos – o que também foi identificado em outros países – e o incrível desenvolvimento técnico científico que possibilita atuar de maneira nunca antes pensada, sobre a vida humana desde o seu início até a sua terminalidade. É necessária uma reflexão ética que tenha como escopo a análise de objetivos, meios e consequências dos fatos, propondo caminhos que expressem quem é o homem, como deve agir e de que modo deve ser tratado. Surgiu assim a Bioética como uma ciência que se propôs ser ponte para o futuro para a preservação e defesa de cada pessoa humana em seu meio ambiente.
Imediatamente surge o apelo por esclarecimentos sobre os direitos humanos e emerge a necessidade de uma reflexão filosófica e ética: onde se fundamentam e quais são os direitos do homem, até onde se estendem e se existem aqueles inalienáveis protegidos em uma ordem de prioridade?
Novas urgências reclamam a crítica da ciência experimental, a fronteira que salvaguarda cada pessoa e a humanidade em sua totalidade, a superação das insuficiências da normativa jurídica, a reorganização dos custos para a justiça social na prática assistencial. O fundamento último deve ser oferecido pela antropologia que define o valor único de cada pessoa humana.
Na filosofia a pergunta é o que gera toda discussão que cerca o todo e se aproxima da verdade; e, aqui está a pergunta básica: quem é o homem? Exatamente sobre este ponto fundamental se apresenta uma situação paradoxal. Diante do evidente pluralismo antropológico surgem tantas linhas de Bioética quanto são os modelos de ética de referência como o liberal radical, pragmático-utilitarista, cientista-tecnológico, sociobiologista evolutivo, subjetivismo da maioria, hipercrítico desconstrutivista.
A ética médica traz um enfoque parcial e deve se ater diante da afirmativa de que nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente lícito, e assim surgiu a Bioética. A referência que pode permanecer e apresentar base possível de ser aceita internacionalmente, é aquele que se apoia no próprio homem enquanto pessoa; justamente por ser pessoa, é um valor objetivo, transcendente e inatingível e, portanto, normativo. Este é o modelo personalista que apresenta conteúdo e método de referência: a vida humana traz em si a estrutura da totalidade unificada: a irredutibilidade da unidade física, psicológica, espiritual, onde por espiritual se constata tudo o que nele pode se confrontar com o social, o corporal, o circunstancial e, inclusive, com o próprio psíquico, fonte da liberdade, responsabilidade, consciência, da busca de sentido, da autotranscendência.
Elizabeth Kipman Cerqueira